Este artigo faz parte da série Alice Comenta da autoria da equipa do Programa de Investigação Epistemologias do Sul, publicada no Alice News com cadência semanal.
As controvérsias em torno dos números da pandemia da COVID 19 podem ser entendidas como manifestações de uma luta entre versões do fenómeno, do que está em jogo na crise atual e de como responder a ela – ou, por outras palavras, uma forma de política que é indissociavelmente epistémica e cognitiva, condicionando ou conferindo autoridade às declarações e às intervenções de autoridades científicas, sanitárias e políticas. É importante por isso compreender como são produzidos os números, por quem, com que objetivo e como são apropriados e usados.
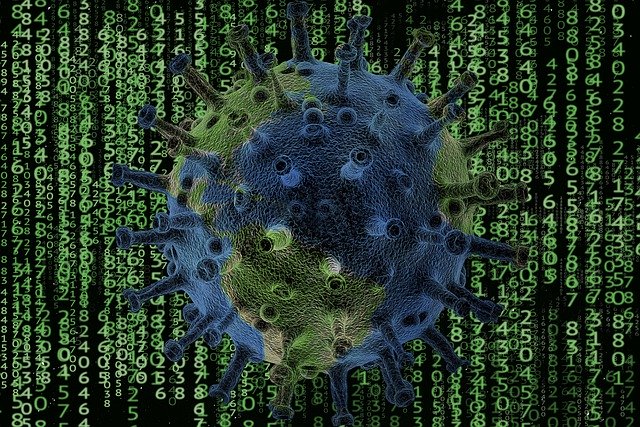
Este é um tema que tem ocupado as ciências sociais desde há muitos anos, aparecendo como mais uma versão da afirmação do rigor incorporado na quantificação, que permitiria aos estados e autoridades “seguir a ciência” para lidar com a crise. A urgência da resposta à pandemia perante a incerteza gerada por um novo vírus entra aqui em tensão com a necessidade de a legitimar através da referência ao rigor científico expresso em métricas assentes em procedimentos rigorosos de classificação e de distinção entre o verdadeiro e o falso. Os números da pandemia contam, de facto, várias histórias: a de quem vive e a de quem morre; dos casos de infecção, dos internamentos e das mortes; do sucesso ou insucesso das medidas de contenção da infecção; da tensão entre a ameaça à saúde e à vida e o colapso da economia; de quem povoa estas histórias e a de quem delas desapareceu. As suspeitas, suscitadas nos meios de comunicação social, nas redes sociais e no debate político, de ocultação ou incompetência por parte das autoridades que produzem e publicitam os mundos da pandemia passam ao lado das condições e processos de produção dessas histórias. Proponho aqui uma contribuição, assumidamente parcial e limitada, ao redirecionar da discussão em torno da política dos números para o que esta tem ignorado, silenciado ou suprimido.
Um artigo publicado na passada semana na revista The Lancet Public Health, uma colaboração de pesquisadores da Universidade de Hong Kong e de um Centro da Organização Mundial de Saúde, veio lembrar a importância da política dos números para a compreensão da dimensão da pandemia e da sua progressão, enquanto recursos para intervenções médicas e de saúde pública apropriadas a condições de grande incerteza. O artigo discute as implicações para a determinação do número de casos das mudanças nos critérios de definição de pessoas infetadas na China, a partir de investigações que não seriam possíveis em condições de urgência de resposta; o artigo procura mostrar a necessidade de ampliar a investigação através de novas possibilidades de redefinir casos e de alargar o âmbito da sua inclusão, especialmente quando a disponibilidade de testes fiáveis e a capacidade efetiva de os realizar e processar aumenta. A identificação inicial da própria existência do vírus como agente infecioso depende da identificação de pessoas infetadas, de casos clinicamente confirmados. À medida que se vai alterando a definição do que é um caso e a capacidade e efetividade de testar, modifica-se a compreensão do processo de contágio e da curva da epidemia, torna-se possível modelar cenários alternativos, mas também ampliar a definição do que conta como um caso.
Os óbitos são igualmente contabilizados, inicialmente, a partir dos que ocorrem em hospitais ou que são notificados por profissionais de saúde, em condições de grande pressão sobre os profissionais e serviços de saúde. Daí que as pessoas que morrem noutros contextos (idosos que vivem sós ou em lares, imigrantes não legalizados, refugiados internados em campos ou outros lugares de confinamento, por exemplo) tendam a tornar-se invisíveis, ou adquirem visibilidade quando as medidas de contenção conseguem retardar a progressão da infeção e a pressão sobre os serviços de saúde.
É a partir destas definições baseadas em critérios médicos ou de saúde pública que se procede à distribuição da população por grupos de risco. Como são definidos esses grupos? Pela idade? Por terem um problema pré-existente, uma doença crónica, por exemplo, ou outras doenças infecciosas, ou por terem sido transplantados? Por estarem em condição vulnerável temporária, como mulheres grávidas? A que medidas de contenção devem os grupos de risco ou considerados vulneráveis ser sujeitos? Os portadores assintomáticos devem ser classificados como parte de grupos vulneráveis sujeitos a medidas de isolamento? Como são usados os números por quem defende a promoção da imunidade de grupo com isolamento “vertical” de grupos vulneráveis? Como definir casos suspeitos que devem ser vigiados? Por sintomas? Que sintomas? Apenas os que estão geralmente associados à infeção? Ou outros, que podem também indiciar vulnerabilidade ao vírus? Pela proveniência ou pelas trajetórias de mobilidade (pessoas que viajaram, por exemplo, ou imigrantes)?
A atribuição de causas de morte depara igualmente com problemas de definição. Todas as pessoas infetadas, independentemente da causa de morte próxima, contam como mortes atribuíveis ao vírus? E quando não é possível determinar se a pessoa estava infetada, apesar de exibir sintomas associados à infeção? Como lidar com a tensão entre a pressão da urgência da intervenção clínica e a produção de registos de internamento e de óbito (uma situação bem documentada por muitos anos de pesquisa em antropologia médica...)? O que se pode aprender – tendo em conta as diferenças entre elas - com a experiência da SIDA desde a década de 80, do Ébola, SARS e MERS? Como são afetadas as contagens de quem vive e de quem morre?
A crise do que Stefan Ecks chama o capitalismo do coronachoque tem mostrado que a discussão sobre os números pode ser uma porta de entrada para o reconhecimento das “linhas de fratura” que a pandemia veio revelar de maneira brutal, especialmente através do que Boaventura de Sousa Santos chamou o Sul da pandemia. As contas da pandemia são elaboradas a partir de formas de classificação que mostram e ocultam, que incluem, diferenciam e excluem a partir de critérios epidemiológicos e clínicos. A parcialidade e abissalidade das classificações tem sido demonstrada nas sociedades do Norte pela situação de idosos que vivem em lares, dos reclusos que vivem em instituições carcerais, de refugiados e imigrantes ilegais, de pessoas que vivem na rua, de trabalhadores precários e informais, de desempregados. Mas essa situação é ainda mais notória quando consideramos os milhões de pessoas com vidas no limite da precaridade e da sobrevivência na Índia, em várias regiões da África, nas periferias urbanas e nos campos da América Latina, as populações tradicionais ameaçadas de perda dos territórios em que vivem e das suas condições de sobrevivência, e para as quais a pandemia vem potenciar o estado de exceção em que vivem permanentemente. A definição do que conta como grupo de risco, requerendo medidas especiais de proteção, facilmente se converte num estigma que segrega e condena quando a vulnerabilidade estrutural que caracteriza a exclusão abissal – aquela que confina a uma zona de não-ser, onde reina a violência e a despossessão - se manifesta através da infeção. Mesmo na emergência, certos grupos de risco são mais visíveis do que outros, e alguns tendem a desaparecer na aparente equalização de condições na base de critérios clínicos e de saúde pública. Por isso importa entender como vai mudando o que conta como um caso no enfrentamento da pandemia, à medida que se vai conhecendo melhor o vírus e as suas formas de transmissão, assim como as exclusões e invisibilizações que as crises que se encontram na pandemia vão criando.
Palavras-chave: COVID 19; política dos números; sociologia das ausências; exclusão abissal
João Arriscado Nunes é Professor Catedrático da Universidade de Coimbra, co-coordenador do Programa de Doutoramento "Governação, Conhecimento e Inovação" e Investigador do CES. Foi Pesquisador Visitante na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no Rio de Janeiro. Os seus interesses de investigação centram-se nas áreas dos estudos de ciência e de tecnologia (em particular, da investigação biomédica, ciências da vida e da saúde pública, da relação entre ciência e outros modos de conhecimento), da sociologia política (democracia, cidadania e participação pública, nomeadamente em domínios como ambiente e saúde) e teoria social e cultural (com ênfase no debate sobre as "duas culturas"). Mais recentemente, coordenou os projectos de investigação "Avaliação do estado do conhecimento público sobre saúde e informação médica em Portugal", no âmbito do Programa Harvard Medical School - Portugal e "BIOSENSE". Coordenou e participou em vários projectos nacionais e internacionais. Co-organizador dos livros Enteados de Galileu: A Semiperiferia no Sistema Mundial da Ciência (Porto: Afrontamento, 2001); Reinventing Democracy: Grassroots Movements in Portugal (London: Frank Cass, 2005) e Objectos Impuros: Experiências em Estudos Sobre a Ciência (Porto: Afrontamento, 2008) e autor de publicações diversas.