Lidar com a morte, a nossa e a dxs outrxs
Pânico, medo, incapacidade de aceitar limitações ao nosso poder individual de movimento – lembramo-nos que em 2020 o passaporte italiano é o quarto passaporte mais poderoso do mundo, calculando este dado com base no número de Estados onde é possível se deslocar sem problemas. Estes são os elementos da cartografia emocional do País inteiro neste momento.
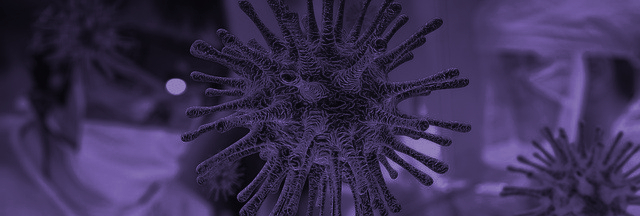
No seio da Europa, do continente que estruturou a sua própria sociedade contemporânea numa ideia de potência infinita, de produtividade e bem-estar eternamente em crescimento, no fetiche do desenvolvimento capitalista como única alternativa possível, da fé cega na racionalidade científica e tecnológica, a ideia que a própria existência seja posta em questão e submetida a um estado de precariedade impossível de controlar era simplesmente impossível de prever.
A cultura europeia, o seu conhecimento cientifico e cientista, a sua secularização violenta, a sua visão da história como algo que, simplesmente, “acabou”, estabelecendo para sempre vencedores (nós) e derrotados (xs outrxs), tudo isto existe com o objetivo de tornar um estado precário de existência algo que não pertence ao nosso mundo mas sim aos outros, ao "outro lado da linha abissal”.
Isto é: a Europa é saúde, assim como é racionalidade e produtividade. A Europa é corpos perfeitos e vidas eternamente jovens, seguras, sustidas e medicalizadas – ou seja, asseguradas por um aparato médico omnipresente.
De forma espelhada, tudo o que é doença, incerteza pelo futuro, e existência precária, fica no reino do que está “do outro lado da linha”: pertence ao domínio do mundo colonizado, que não tem os meios – científicos, racionais – para ser saudável, e, em consequência, tem de ficar preso nos meios espirituais, religiosos, mágicos para dar um sentido à precariedade da própria existência.
O conhecimento colonial Europeu, é, entre as outras coisas, também um conhecimento baseado na exclusão da morte do nosso horizonte de possibilidade.
Com o Corona Vírus, realiza-se o pior e mais improvável pesadelo da cultura europeia: o retorno da morte – outra forma do retorno do colonizado, ou seja, do que está excluído do nosso paradigma de regulação – para o interior das nossas vidas.
A morte – entendida como fenómeno coletivo, como possibilidade social real, como parte da existência de uma comunidade e questionamento necessário da razão da mesma – é o maior tabu da sociedade colonial contemporânea. A morrer, por definição, são “xs outros”, longe do nosso olhar, porque a vista do destino deles nos resulta insustentável: estão aí, “na África”, evocados pelas publicidades de organizações humanitárias que prometem fazer-nos sentir melhor com um donativo económico. Estão nos navios que cruzam o Mediterrâneo que nos recusamos a ver. Estão nos campos de detenção, onde xs migrantes podem morrer bem longe do nosso olhar.
A morte, no fundo, não tem a ver connosco.
Como destacou o historiador da cultura de massas Alberto Mario Banti, até dentro da história da cultura ocidental e do Norte global a nossa sociedade – a contemporânea – é a primeira que não consegue, culturalmente, lidar com o elemento do trágico.
Se pensamos no que é considerado o começo da cultura europeia – a literatura grega antiga – encontramos o seu fundamento na tragédia: se o teatro tinha, naquela sociedade, um papel social e político fundamental, porque era o espaço público de formação da comunidade cidadã, isto implicava também que aquela comunidade era assim sobretudo porque escolhia enfrentar em conjunto o destino trágico que é parte da vida, de o elaborar coletivamente e de se purificar através disso: pensar a coletividade, então, enquanto katharsis, enfrentamento comunitário da tragédia.
E ainda, na Inglaterra antes da revolução industrial, o trágico não era só destino, mas escolha: no teatro de Shakespeare encontramos, sim, a comédia mais relaxada, mas também a centralidade do trágico como decisão, como possibilidade da vida, como algo que se pode escolher dentro de um destino maior, do qual não é sempre preciso fugir.
E nós? Nesta sociedade pós-industrial, produtivista, saudável, triunfou o nosso domínio racional no mundo, onde somos Europeus sobretudo porque temos razão e, em consequência, não podemos ser vulneráveis: porque, no fundo - como xs migrantes no mar, como xs sem abrigo nas periferias internas das nossas cidades, como as mulheres que se rebelam ao próprio papel - quem morre é quem está errado, é quem tem culpa, é quem pediu por isto.
Numa cultura coletiva baseada no “pastiche pós-moderno”, o seja na reprodução irónica e cínica de tudo e todos, na construção de camadas e camadas narrativas que nos protegem do conteúdo e do sentido último, que produz uma distância constante face às nossas emoções e aos nossos medos mais profundos – como se pode explicar mais claramente a cultura dos memes que domina as redes sociais? – o objetivo único das nossas narrações progressistas é, no fundo, afastar a morte.
Cancelando o luto, a dor, a catarse. Deixando, no fundo, cada umx sozinhx com os seus medos, que, em consequência, se tornam as suas fraquezas.
Talvez, seja este momento de vulnerabilidade uma ocasião para começar a pensar de um jeito novo a saúde – a nossa e a dxs outrxs - a vida, a morte, a obsessão pelo bem-estar.
Talvez seja o momento que o medo da morte se torne uma declaração orgulhosa de incompletude, de imperfeição, de necessidade dxs outrxs, de interdependência radical. Ninguém se salva sozinho, nenhuma se salva sozinha.
Que este amor revolucionário seja a próxima pandemia a sacudir as nossas vidas.
“O protesto mais anticapitalista é cuidar de outra pessoa e cuidar de si mesma. Enfrentar a prática historicamente feminizada – e, portanto, invisível – de dar assistência, alimentar, cuidar. Levar a sério nossa vulnerabilidade, fragilidade e precariedade, honrando-la, respeitando-la e empoderando-la. Proteger-nos mutuamente, estabelecer e praticar comunidade. Um parentesco radical, uma sociabilidade interdependente, uma política do cuidado. Porque, uma vez que estejamos todas doentes e confinadas à cama, compartilhando nossas histórias de terapias e conforto, formando grupos de apoio, testemunhando histórias de trauma alheias, priorizando o cuidado e o amor de nossos corpos doentes, doloridos, caros, sensíveis e fantásticos, e não haja ninguém disponível para o trabalho, talvez então, finalmente, ouviremos o urro do tão necessário, muito esperado e fodidamente glorioso fim do capitalismo.” (Johanna Hedva, A Teoria da Mulher Doente)